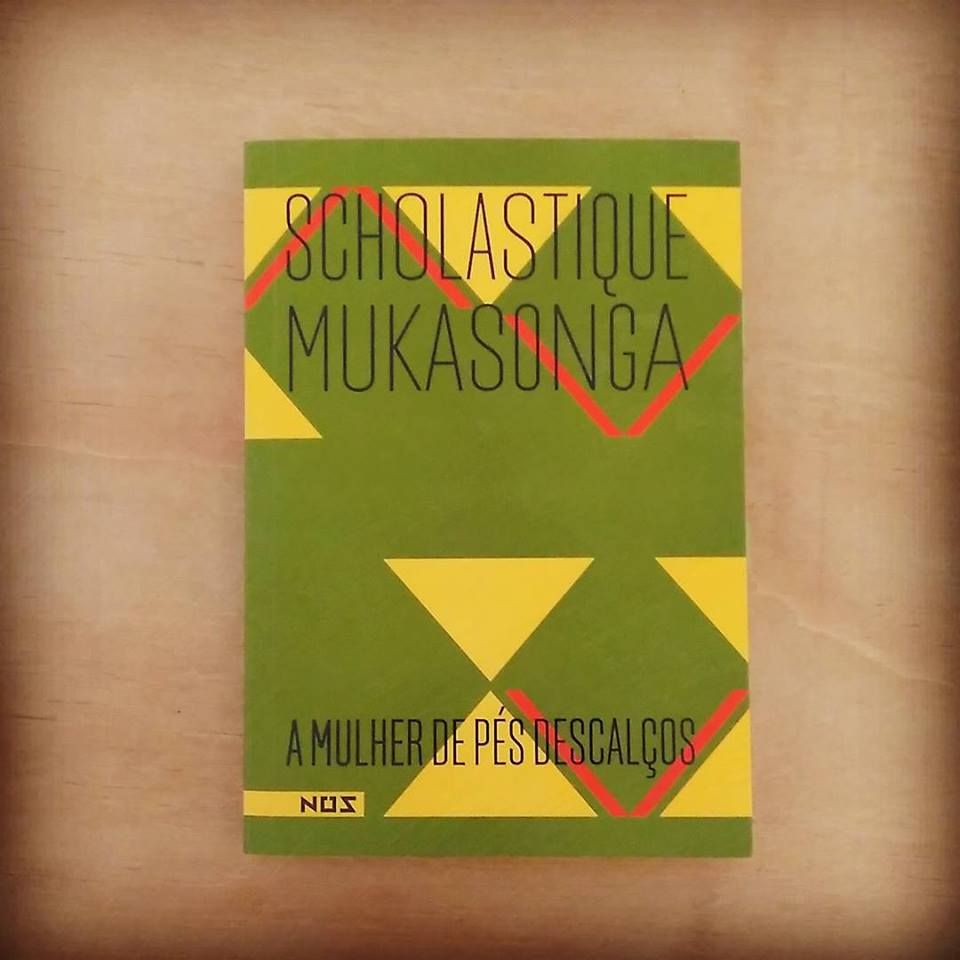Dedico esse post a Dalva Maria Soares.
Entrei em A mulher de pés descalços pensando que ele era um romance e logo fui tomada por um estranhamento. Indo até ficha catalográfica no fim do livro, vi que não havia ali uma classificação para a ficção, mas as entradas “Genocídio – Ruanda – História – Século 20”, “Mulheres – Ruanda – Biografia” e “narrativas pessoais”. Já nos é bem óbvio que no segundo em que começamos a simplesmente narrar algo, vai haver algum artifício na nossa história, do ponto de vista assumido à memória que falha. No entanto, senti a narrativa como uma espécie de peça de museu, mas uma peça que resume em si toda a potência da vida que havia nela quando ela ainda não era uma peça de museu e resume também todas as representações semelhantes àquela mesma peça.
Para deixar mais claro: em determinado momento no início do livro, a autora explica passo a passo como se constrói uma casa em Ruanda. Ela faz questão de chamar essa casa pelo seu nome, inzu, explicando processos do começo da construção de um inzu até como as famílias viviam dentro deles. Então vem um dos meus trechos favoritos:
“Em Ruanda, não há mais casas como a de Stefania hoje em dia. Agora elas só podem ser vistas nos museus, como os esqueletos de animais imensos desaparecidos há milhões de anos. Mas, na minha memória, o inzu não é essa carcaça vazia, é uma casa cheia de vida, com risadas de criança, conversas alegres de moças jovens, histórias murmuradas à noite, rangido de pedra moendo os grãos de sorgo, barulho de cerveja fermentando e, na entrada, a batida ritmada do pilão. Eu queria tanto que isso que escrevo nesta página fosse uma trilha que me levasse até a casa de Stefania” (p. 32)
A personagem central da narrativa é justamente Stefania, mãe de Scholastique. No início do livro, a mãe pede às filhas que elas cubram o seu corpo quando ela morrer, pois, segundo ela, ninguém deve ver o corpo de uma mãe morta. Logo na terceira página, temos a seguinte declaração de Mukasonga: “Mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo, e tenho apenas palavras – palavras de uma língua que você não entendia – para realizar aquilo que você me pediu. E estou sozinha com minhas pobres palavras e com minhas frases, na página do caderno, tecendo e retecendo a mortalha de seu corpo ausente”
Fiquei enrolando para ler A mulher de pés descalços porque eu sabia que falava de um genocídio, e não qualquer genocídio, mas o da guerra civil de Ruanda em 1994, que matou cerca de 800 mil pessoas em quatro meses. Surpreendentemente, o livro fala 95% de como era a vida da família de Mukasonga de quando ela era criança até a sua juventude. Em nenhum momento é narrado o genocídio – há, sim, a narrativa da violência, de uma família morando em uma casa que não é sua, de invasões noturnas de soldados e um estupro – mas o cotidiano do tempo antes do evento se coloca no centro: casa, comida, casamento, bebida, tradição e inovação, medo, fogo, plantas, gestos como o de moer, coar, comer, andar, vestir, costurar, e principalmente as diferenças e relações entre homens e mulheres e entre mulheres e mulheres. Os próprios nomes dos capítulos são muito significativos, quase como se construíssem uma enciclopédia de acontecimentos do passado: “Salvar os filhos”, “as lágrimas da lua”, “a casa de Stefania”, “O sorgo”, “medicina”, “o pão”, e por aí vai, cada coisa se refere a uma parte da vida que se vivia ali antes que acontecesse a dizimação quase total, em que a sobrevivência se dá por palavras.
Contar a história é mantê-la viva: essa afirmação é do universal humano. A manutenção da vida é mais importante que o genocídio. Não à toa, algumas passagens do livro são narradas com verbos no presente, sendo que a maior parte da história é narrada com verbos no passado. Assim a narrativa torna-se capaz de presentificar os acontecimentos, mantê-los vivos aos nossos olhos no momento em que os lemos. A precisão em que os gestos elementares da vida são descritos é aqui completamente viciante. Acho que é por isso que gostei tanto do livro: ele não é uma exposição da morte, ele não é uma narrativa sobre a violência, mas um elogio à solidariedade e toda a potência da vida, dos recursos das mulheres principalmente, acima da crise.
---
Laura Cohen Rabelo publicou os romances História da Água (Impressões de Minas, 2012) e Ainda (Leme, 2014), o livreto de poemas Ferro (Leme, 2016) e agora lança o romance Canção sem palavras (Scriptum, 2017). Mestre em estudos literários pela Faculdade de Letras da UFMG, é idealizadora e coordenadora do projeto Estratégias Narrativas, onde ministra cursos e ateliês de produção literária. Faz parte da coordenação do selo Leme da editora Impressões de Minas.